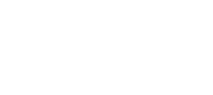MANEJANDO A FLORESTA

© Carlos Penteado
Para garantir sua alimentação e a geração de renda, os quilombolas dependem em muito de suas florestas, onde caçam e coletam uma infinidade de produtos, como a castanha, o açaí, a bacaba, o cipó-titica, a palha e o breu. Os produtos extraídos de seus territórios são utilizados não só como alimento, mas também na confecção de suas casas, na produção de utensílios e ainda para fins terapêuticos.
Sua alimentação básica são o peixe e a farinha de mandioca. A caça e as frutas da floresta complementam sua dieta alimentar. Os alimentos adquiridos na cidade são, basicamente, açúcar, café, macarrão, arroz, feijão, sal, óleo e biscoitos.
Cada família possui seu roçado, onde planta principalmente a mandioca, o milho e a banana. Com importância relativa bem menor, são cultivados também: feijão, arroz, caupi, hortaliças, abacaxi, cana-de-açúcar, tabaco, cupuaçu, acerola, coco e pupunha.
O sistema de cultivo é baseado nas operações de broca, derruba, queima e coivara, também conhecido por sistema itinerante. Homens e mulheres trabalham na agricultura. Os primeiros se dedicam principalmente às operações de broca e derruba; as mulheres, ao plantio e à capina do roçado. Embora cada família tenha seu próprio roçado, é comum a organização de puxiruns (denominação regional para mutirão), em que toda a comunidade se reúne para trabalhar em um único roçado.
A maior parte da produção agrícola destina-se ao autoconsumo. O restante (principalmente de banana e farinha de mandioca) é comercializado na cidade de Oriximiná. As principais dificuldades para comercializar a produção em melhores condições são as grandes distâncias dos mercados consumidores e a falta de transporte.
O sistema produtivo dos quilombolas de Oriximiná determina uma ocupação peculiar de seu território, caracterizada pela divisão entre a região das residências e das plantações (nas margens dos rios e lagos) e a região de extrativismo (situada nas áreas de mata).
A exploração de cada uma dessas regiões dos territórios varia durante o ano. No verão, dedicam-se mais intensamente aos roçados, localizados nas proximidades dos centros comunitários. E esta também é a época de melhores oportunidades para a pescaria. Já no período de inverno (época das chuvas), os quilombolas deslocam-se para as matas a fim de realizar a coleta da castanha.
Coleta da Castanha
A coleta da castanha-do-pará (Bertholletia excelsa) faz parte da tradição dos quilombolas de Oriximiná. A lida com a castanha teve início quando os escravos fugitivos constituíram seus quilombos nas matas do Rio Trombetas e seus afluentes. Ao fugir, os negros tiveram que aprender a extrair da floresta sua sobrevivência. Passaram a caçar, pescar e coletar produtos vegetais na mata. Além da castanha, os quilombolas extraíam a salsaparrilha, o cumaru, o óleo de copaíba, andiroba e pequiá.

© Carlos Penteado
Desde o século 19, a castanha representa uma importante fonte de renda para os quilombos desta região, pois, mesmo no período da clandestinidade, sua coleta visava não apenas ao consumo, mas também à comercialização no mercado regional. Até hoje, a coleta e comercialização das amêndoas de castanha-do-pará, produto abundante nas matas de seus territórios, constitui uma das principais fontes de renda dos quilombolas, especialmente das comunidades do Alto Trombetas.
O ciclo de produção das castanheiras vai de dezembro a junho. A atividade de coleta é mais intensa no período de fevereiro a maio.
A coleta da castanha é praticada tanto pelas mulheres quanto pelos homens. As mulheres costumam trabalhar nos castanhais mais próximos das comunidades. Por causa de suas responsabilidades domésticas, elas encontram maior dificuldade para se deslocar até os castanhais mais distantes, que exigem a permanência na mata por vários dias.
Apesar de menos usual nos tempos atuais, algumas famílias quilombolas ainda acampam nos castanhais por períodos que podem variar de semanas a dois ou três meses. O tempo de permanência nos acampamentos (ou tapiris, como são chamados pelos quilombolas) varia em razão de vários fatores, como condições de saúde, trabalho na agricultura e a existência de reserva de mantimentos para os familiares que ficam em casa. A existência de uma boa safra (boa produção ou bons preços) estimula a permanência em maiores períodos.
Os principais instrumentos utilizados pelos castanheiros na lida com a castanha são o facão e o paneiro (um cesto para transporte da castanha). A canoa é importante meio de transporte. A espingarda garante o alimento e a proteção contra animais perigosos. Os castanheiros reúnem os ouriços que se encontram espalhados pelo solo, normalmente utilizando o facão. Após juntar uma certa quantidade, o castanheiro quebra os ouriços com o facão. Esta atividade exige força e habilidade, pois o ouriço é muito duro. Algumas pessoas quebram os ouriços no próprio castanhal, outras realizam essa tarefa no tapiri (acampamento). As castanhas são lavadas para a retirada da sujeira e a seleção das amêndoas – as chamadas castanhas “chuchas” ou “chochas” são descartadas, pois não prestam para alimentação.
A castanha percorre vários caminhos: do castanhal para o tapiri e de lá para a comunidade. A produção é carregada dentro dos paneiros nas costas dos quilombolas. Um paneiro bem cheio pode pesar até 60 quilos. Nos outros trechos, as castanhas são transportadas em pequenas canoas pelos igarapés e ainda nos barcos das comunidades. No Rio Erepecuru a existência de cachoeiras requer grande habilidade para garantir que a carga chegue em segurança a seu destino.
A castanha pode ser vendida na comunidade para os intermediários, conhecidos como regatões, ou ser levada até a cidade de Oriximiná, onde é medida e vendida para as usinas de beneficiamento. No Pará, as principais usinas estão localizadas nas cidades de Belém, Oriximiná e Óbidos.
A forte desigualdade caracteriza a cadeia produtiva da castanha-do-pará. Os coletores sempre estiveram sujeitos a uma relação de alta exploração quer pelos “patrões” – que se diziam donos dos castanhais – quanto pelos regatões que compram a castanha e vendem mercadorias.
Por muitas décadas, o acesso dos quilombolas aos castanhais foi controlado pelos “patrões” como relata Augusto Figueiredo, de 59 anos, quilombola da Comunidade Pancada: “antes era dominado pelo patrão, a castanha que a gente colhia tinha que vender para eles, no preço que eles queriam. Se alguém vendesse para outra pessoa, eles mandavam prender, ou quando pegava para se alimentar. O trabalho pesado ficava todo com a gente, que transportava nas costas para colocar na canoa”.
Os quilombolas recebiam mercadorias (com valores majorados) como pagamento da castanha (sempre avaliada a preços abaixo do mercado). Muitas vezes, as dívidas assumidas pelos quilombolas na compra das mercadorias dos patrões era tão alta que não recebiam nenhum pagamento pela castanha coletada. Mesmo nos castanhais “livres”, os coletores estavam sujeitos a uma relação de alta exploração nesse caso pelos regatões que compravam a castanha a preços pré-fixados abaixo do seu valor de mercado em troca de mercadorias com valores muito altos.
Atualmente , os quilombolas não estão mais sujeitos aos “patrões” e diversas comunidades, como as do Erepecuru e Trombetas, já são proprietárias dos castanhais onde coletam. No entanto, as dificuldades de comercialização e a intermediação dos regatões persiste. Mais um desafio que a Cooperativa do Quilombo, com o apoio da Comissão Pró-Índio vem buscando superar.
Durante os anos de 2000 a 2005, a ARQMO e a Comissão Pró-Índio realizaram um grande esforço em organizar os coletores para a venda conjunta e a adoção das boas práticas de manejo como forma de valorizar a produção e aumentar o ganho dos castanheiros. A criação da Cooperativa do Quilombo foi um dos resultados dessa iniciativa. O projeto conseguiu também aumentar o valor obtido pelos castanheiros através da negociação direta com as usinas de beneficiamento. No entanto, a concorrência dos regatões acabou por inviabilizar o negócio da cooperativa. A partir das lições dessa primeira experiência, a CEQMO decidiu direcionar sua ação para a viabilização de uma usina de beneficiamento própria direcionada à venda para os mercados do PNAE e PAA.